Ao contrário do conceito de noctívago, que tem o aliciante de expressar um espírito errante, em vigília a horas invulgares, solitário tendo por companhia nesse despertar forçado tarefas nobres, de todas a escrita como a mais valiosa, ou o recatado pensamento íntimo, a insónia traz consigo o estigma de uma desgraça, maldição a perseguir o Humano como uma doença.
Foi com essa expectativa que me me encontrei com o livro que hoje refiro, regressando a este meu caderno de leituras.
Está escrito em francês, língua cada vez mais rara. O tempo da minha geração e o das poucas que lhe seguiram, ficarão para a História como a daqueles que no Liceu tinham como aprendizado a língua gaulesa, durante cinco anos.
A autora, Marie Darrieussecq tem, à data, uma bibliografia activa numerosa, a primeira datada de 1996, editada na Folio, colecção da prestigiada Gallimard, com muitas outras obras publicadas em editoras diversas.
O livro é autobiográfico, fruto da vivência de quem o escreveu ao longo das dolorosas noites brancas, ante a impossibilidade de conseguir dormir e é relato da desesperada procura de tudo quanto se apresente como meio ou ilusão para a restituição do sono, da química à psicologia, e tanto mais que impressiona tanto a variedade como a inutilidade.
Mas a obra é muito mais do que isso.
Antes de mais, nela avulta a profunda cultura que subjaz à escrita, chamando-se à colação inúmeros vultos da vida cultural e social, que da insónia partilharam a vivência, além da referência pormenorizada a obras, não apenas literárias, em que o tema é precisamente o pesadelo do não dormir.
Mas o que há nele e o torna muito interessante são as menções, surpreendentes algumas, breves embora, em que o tema é reconduzido para territórios inesperados. Assim a ideia de que insónia se tornou, socialmente, mais elegante do que o dormir, este tido por actividade tão vulgar como o defecar, em que não se imagina envolvidos os grandes vultos.
Ou surgir, num voltar de folha, pena que a preto e banco, o quadro de Turner, intitulado Regulus, o qual traduz, na luz ferina que por ele perpassa, a lenda sobre sorte mísera de Marcus Atilius Regulus, cônsul romano, condenado a não dormir, morto pela insónia, as pálpebras cortadas.
Regulus é, aliás, lembra a autora, o nome de uma das estrelas mais brilhantes dos céus nocturnos, assim designada por Copérnico.
Ou entre tantas referências ao insones excepcionais, a que é detalhada quanto ao desesperado Marcel Proust e à sua obra maior À la Recherce du Temps Perdu e a propósito dele, a luta contra o ruído, a busca pela paz do silêncio, tanto em que me revejo.
Li o livro e ainda continuo a lê-lo.
Há nele a lembrança agoniante da privação do sono como forma de tortura, a rememoração do dia seguinte à noite sem descanso, manhãs mortas, «tempo para nada e que, no entanto, devora».
Nele encontro o desespero de Emil Cioran, cujas obras completas adquiri, de novo em francês, e espero ter tempo de insónia para conseguir ler e trabalhar, essa demoníaca equação que me persegue.
E com ele me reencontro com o pequeno livro de contos desse excepcional ser humano que foi Stefan Zweig, o austríaco que se suicidaria, com sua mulher, no Brasil, livro que adquiri na edição publicada em 1940 pela Livraria Civilização e que tanto me impressionou ler, logo o título tão vocativo: O Mundo não Pode Dormir e de seguida a abertura:
«Há hoje no mundo pouca gente que durma; as noites são mais longas, mais longos os dias. Em todos os países, por essa Europa fora, em todas as cidades, em cada rua, cada casa, cada aposento, tornou-se mais curta e febril a tranquila respiração do sono; a época é de fogo, e como se fora uma única noite de Verão, pesada e abafadiça, cai sobre as nossas noites e perturba-nos os sentidos».
Escrevia, o magnífico autor de O Mundo de Ontem, sobre o que se vivia em plena 1ª Guerra, palavras hoje tão tragicamente actuais.
Livro sobre um mundo que nos desperta em permanência, universo de écrans luminosos, de disponibilidade na base do 24/7, vinte e quadro horas em sete dias da semana, do imediato como resposta expectável, da vertigem da velocidade, o micro-segundo como critério de excelência tecnológica e de humanos robotizados, Pas Domir é uma obra invulgar.
Poderia continuar com referências ao que já li. Fico a com menção nele feita ao poema Insónia de Álvaro de Campos, com cuja transcrição findo esta breve anotação:
«Não durmo, nem espero dormir.
Nem na morte espero dormir.
Espera-me uma insónia da largura dos astros,
E um bocejo inútil do comprimento do mundo.
Não durmo; não posso ler quando acordo de noite,
Não posso escrever quando acordo de noite,
Não posso pensar quando acordo de noite —
Meu Deus, nem posso sonhar quando acordo de noite!
Ah, o ópio de ser outra pessoa qualquer!
Não durmo, jazo, cadáver acordado, sentindo,
E o meu sentimento é um pensamento vazio.
Passam por mim, transtornadas, coisas que me sucederam
— Todas aquelas de que me arrependo e me culpo;
Passam por mim, transtornadas, coisas que me não sucederam
— Todas aquelas de que me arrependo e me culpo;
Passam por mim, transtornadas, coisas que não são nada,
E até dessas me arrependo, me culpo, e não durmo.
Não tenho força para ter energia para acender um cigarro.
Fito a parede fronteira do quarto como se fosse o universo.
Lá fora há o silêncio dessa coisa toda.
Um grande silêncio apavorante noutra ocasião qualquer,
Noutra ocasião qualquer em que eu pudesse sentir.
Estou escrevendo versos realmente simpáticos —
Versos a dizer que não tenho nada que dizer,
Versos a teimar em dizer isso,
Versos, versos, versos, versos, versos...
Tantos versos...
E a verdade toda, e a vida toda fora deles e de mim!
Tenho sono, não durmo, sinto e não sei em que sentir.
Sou uma sensação sem pessoa correspondente,
Uma abstracção de autoconsciência sem de quê,
Salvo o necessário para sentir consciência,
Salvo — sei lá salvo o quê...
Não durmo. Não durmo. Não durmo.
Que grande sono em toda a cabeça e em cima dos olhos e na alma!
Que grande sono em tudo excepto no poder dormir!
Ó madrugada, tardas tanto... Vem...
Vem, inutilmente,
Trazer-me outro dia igual a este, a ser seguido por outra noite igual a esta...
Vem trazer-me a alegria dessa esperança triste,
Porque sempre és alegre, e sempre trazes esperança,
Segundo a velha literatura das sensações.
Vem, traz a esperança, vem, traz a esperança.
O meu cansaço entra pelo colchão dentro.
Doem-me as costas de não estar deitado de lado.
Se estivesse deitado de lado doíam-me as costas de estar deitado de lado.
Vem, madrugada, chega!
Que horas são? Não sei.
Não tenho energia para estender uma mão para o relógio,
Não tenho energia para nada, para mais nada...
Só para estes versos, escritos no dia seguinte.
Sim, escritos no dia seguinte.
Todos os versos são sempre escritos no dia seguinte.
Noite absoluta, sossego absoluto, lá fora.
Paz em toda a Natureza.
A Humanidade repousa e esquece as suas amarguras.
Exactamente.
A Humanidade esquece as suas alegrias e amarguras.
Costuma dizer-se isto.
A Humanidade esquece, sim, a Humanidade esquece,
Mas mesmo acordada a Humanidade esquece.
Exactamente. Mas não durmo».













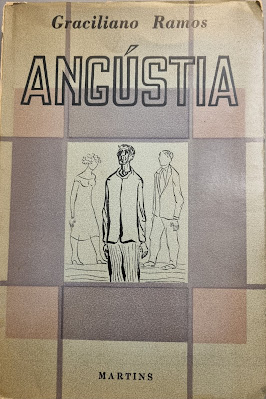




.jpg)




.png)











